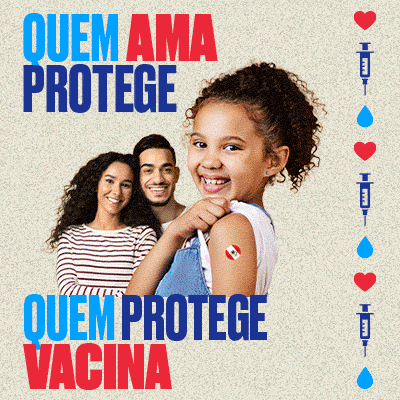– “Somos como igarapés, que se encontram na curva formando um grande rio, unidos na força da correnteza para alcançar o objetivo maior, que é tornar-se Mar ! Assim é o indígena na Universidade!”

A reflexão acima está no perfil de rede social da médica Concimar Okitidi Sompré, primeira médica indígena nascida no Estado do Pará, formada pela UFPA,
E esse sempre foi o sonho de Okitidi, desde quando vivia criança nas aldeias de seus povos.
Ser médica.
Percorrer aldeias ajudando a cuidar da saúde de seu povo, sua missão era essa.
E o fato de concluir o curso, receber o diploma e já começar a trabalhar, são um desses acontecimentos que merecem o olhar atento da sociedade pela importância pioneira da conquista.
Pelo telefone, o blogueiro alcançou Conci, carinhosamente assim chamada pelos seus, pedindo-lhe uma entrevista para falar sobre o sonho alcançado, depois de seis anos dentro de salas de aula na UFPA.
Agradecida, a jovem médica fez um breve comentário a respeito da publicação de seu depoimento, que ela estava começando a me conceder:
– “Devemos propagar a importância dos povos nos espaços. Principalmente espaços esses que demandam tomada de decisões”.

A formatura de Okitidi ocorreu no inicio deste ano, e logo em seguida ela já conseguiu emprego.
Só que distante do seu Estado do Pará, precisamente em Santa Catarina, na cidade de Entre Rios.
Ela é médica titular da UBS da cidade, que atende mais de 800 indígenas do povo Kaingang em parceria com a SESAI.
“Entre Rios é uma pequena cidade composta por grande parte do seu entorno por território indígena”, explica.
E por que não fixou trabalho numa das dezenas de aldeias existentes no território paraense?
“ – A minha vinda a Santa Catarina se deu por opção para trabalhar com povos indígenas daqui da região, além da oportunidade. Como no Estado do Pará não tem ainda Processo Seletivo para trabalhar na Saúde Indígena, por este motivo fiquei sem opção na minha terra e, ao receber uma proposta daqui do Estado de Santa Catarina, aceitei – assim como também recebi propostas do Rio Grande do Sul e de outros Estados. Aqui, para mim, está sendo bom, por esses motivos, e porque eu pretendo, futuramente, cursar uma Residência. E quanto a Especialização, que estou a me decidir qual farei , durante meu curso na UFPA gostei muito de cardiologia, ginecologia e Médico da Família e Comunidade -, área que eu me identifico bastante e que está bem próxima também das comunidades indígenas”.
Mãe de Aru, uma criança hoje com dois anos, nascida em Belém, precisamente na Santa Casa de Misericórdia, quando Okitidi fazia faculdade, a médica sempre esteve à frente dos movimentos em defesa das causas dos povos indígenas, soltando sua voz, dentro e fora da sala de aula, para legitimar a luta por mais saúde, mais educação, mais dignidade dentro das nações autóctones do país.

O nome do filho é homenagem ao seu irmão guerreiro, Aru (foto abaixo), que se revelou nacionalmente jogando futebol de primeiríssima qualidade como atacante, inicialmente no time profissional do Gavião Kyikatêjê, morto em um acidente de carro quando se dirigia à Aldeia Mãe-Maria.

A propósito, a comunidade indígena Gavião Kyikatêjê, localizada a 40 km de Marabá, está orgulhosa de ter uma filha médica, que desde os primeiros anos cursando a faculdade, demonstrava especial atenção a todos quando o assunto era a saúde da comunidade.
Lamentando o fato de que o número de mulheres formadas no Brasil em medicina, é muito pouco, Conci procura logo deixar claro que ela não é a primeira indígena a se formar médica na UFPA.
– “Não, eu não sou a primeira mulher indígena do país a se formar médica no Estado do Pará. Porém, posso garantir ser a primeira mulher indígena do Estado, nascida no Estado do Pará, do povo Guarani, por parte da minha mãe; e Xerente, por parte do meu pai. Existem três outras meninas indígenas que também cursaram medicina na UFPA, que são de outros Estados, como Amapá e do Amazonas, uma nascida às margens do rio Solimões. Agora, pertencente ao povo indígena do Estado do Pará, eu sou a primeira medica formada na UFPA.
Vasculhando uma das redes sociais de Okitidi Sompré, o blogueiro viu uma foto marcante, registrando um dos momentos da formatura da jovem médica: radiante de felicidade, ela esnoba, orgulhosa, o uso de um cocar.
Marcante a imagem porque, como muitos sabem, o cocar é um adorno que simboliza status ou um tipo de conexão do guerreiro com o grande espírito.
Sobre a colação de grau, carregada de emoção, Sompré descreve o sentimento em relação a solenidade, acompanhada virtualmente por muitos membros da Aldeia Mãe-Maria e outras comunidades.
“Ali você vê tudo que passou e vê o desfecho que é a colação, é muito emocionante”.
Sobre o ato de estar trabalhando em um posto de saúde no interior com indígena sendo o público alvo, Okitidi Sompré confessa ser mais fácil, e produtivo, atender seus pacientes com uma proximidade cultural que a diferencia de todos os outros colegas médicos não-indígenas.
– “Sim! O trabalho do médico ou da médica indígena dentro das comunidades indígenas melhora muito, é o ideal. Quanto mais termos médicos, médicas e enfermeiras cuidando dos indígenas, é melhor porque a gente entende as especificidades, a gente respeita, compreende. Ou seja, tem toda uma situação que envolve, além do não-racismo, do não sofrer preconceito, do indígena poder ser ele, entendê-lo como um todo, cultural e espiritual. Isso diferencia bastante. A aproximação de relação médico-indígena e paciente-indígena ajuda bastante, fortalece bastante e ajuda na questão do tratamento”.

Quando fala da comunidade Kyikatêjê, se enche de orguho. E emoção! Sonha, faz questão de dizer, em trabalhar um dia em alguma Unidade Básica de Saúde próximo à sua gente.
– “A comunidade Kyikatêjê é a minha comunidade, onde cresci e me identifico com a cultura de minha gente – inda não sendo Kyikatêjê de sangue. Sou Kyikatêjê por cultura, já que a conheço profundamente. Em razão de tudo isso, pretendo um dia retornar, e prestar serviços ao meu povo. As lideranças Gavião também têm muito carinho por mim, o cacique Zeca Gavião, que em momento nenhum demonstrou insatisfação por eu não estar lá com eles. Ele viu a minha necessidade, a importância de eu aproveitar a oportunidade surgida, e até porque somos ainda poucos profissionais médicos indígenas. No Estado do Pará, têm uns médicos indígenas que estão trabalhando, mas não estão na saúde indígena porque ainda não houve uma abertura de edital para trabalharem. A legislação não permite contratação direta. Se quando eu já estiver concluído minha missão aqui, e abrirem edital no Pará, com certeza tentarei obter uma vaga para trabalhar ao lado de meu povo, porque eu idealizo prestar serviço na minha terra.
Um dos momentos mais marcantes da entrevista foi quando Okitidi passou a falar sobre o que é ser uma indígena na Universidade, especialmente na Faculdade de Medicina.
A narrativa dela comprova a dificuldade das minorias conseguirem espaço para o conhecimento em meio a tantos preconceitos.
Contou Conci:
– “Os desafios são muitos, porque não basta apenas ter acesso à Universidade: o indígena precisa permanecer na Universidade! E concluir o seu objetivo que é a graduação. Em todo esse processo, do acesso à graduação, nós, indígenas na Universidade, passamos por muitos desafios, seja ele financeiro; seja ele de conhecimento e até mesmo de superação do racismo. A Medicina foi, por muito tempo, mesmo sendo em uma universidade pública, restrita a um grupo de pessoas consideradas elite, nas universidades brasileiras. Ao me ver sentada naquela sala, no primeiro dia de aula, foi motivo de grande alegria. Eu sabia os desafios que eu iria enfrentar dali para a frente, e eu tinha que descobrir uma forma para sobreviver àquele meio. Eu precisei me posicionar, não tive vergonha de mostrar quem eu era, considerando que, por muitos anos, o indígena precisou esconder sua identidade. Eu tinha convicção de que não poderia fazer isso, mesmo sabendo que eu poderia sofrer racismo. Mas o meu rosto não nega minha identidade. Eu poderia dizer que não era indígena, mas o meu rosto, a minha família, a minha origem, a minha forma de ser, me identificariam. Então, até para você dizer que era indígena, na Universidade, causa espanto nas pessoas, que revelam aquele olhar “como assim, uma indígena no curso de Medicina?”
Embora as ações afirmativas próprias para indígenas sejam asseguradas por lei, a questão das cotas numa faculdade como a de Medicina é encarada com muito preconceito até por professores da Academia. Vejam o que conta Sompré sobre o constrangimento vivido em seu primeiro dia de aula na faculdade.

– “Eu lembro, a primeira vez na sala de aula, estavam eu e minha amiga quilombola. Abro parênteses: nós duas(eu e ela) beneficiadas pelo processo de políticas afirmativas. Primeiro veio o acesso aos povos indígenas, depois a luta teve prosseguimento para que outras representatividades pudessem estar tendo acesso pelo regime de cotas, e os quilombolas entraram, motivo de muito orgulho para nós também.
Pois bem, voltando, lembro que a primeira saudação na sala de aula foi de uma professora muito renomada, parabenizando os alunos que ali estavam, orgulhosa dos alunos que haviam sido classificados em primeiro lugar, notas máximas, essas coisas. Aí, ela fez uma fala muito infeliz e racista. Ela disse: -“Sejam bem vindos à ´maior do Norte´ (UFPA, como é chamada pela sua importância e tradição no ensino público) aqueles que lutaram, aqueles que realmente mereceram estar aqui. Eu não sou a favor de cotas, porque cota estraga a universidade, cota é uma falha na Educação”.
Então, claramente, ela disse a mim que eu não era bem vinda, que eu não era capaz de estar ali. Foi assim que eu entendi: eu não tinha o direito de estar ali. Minha amiga quilombola se virou pra mm e perguntou, aflita: – “E agora, o que nós vamos fazer?”, como já se sentindo perseguida, acuada, ameaçada. Eu olhei pra ela, e respondi: -“Nós precisamos mostrar que somos capazes, vamos dar o melhor de nós e mostrar a ela (professora) que somos competentes tanto quanto os demais que estão aqui”. E dali começou o meu curso, a minha trajetória na Universidade”.
Esse episódio confirmou aquilo que eu já sabia da necessidade de eu me posicionar. Meus amigos mais próximos, começaram a me conhecer. E logo eu passei a ajudar a fortalecer Associação dos Povos Indígenas Estudantes na Universidade Federal do Pará (APYEUFPA), a nossa associação. Juntos, lutamos por um acesso e permanência na universidade, e fomos ganhando espaço; espaço de fala, espaço em outras faculdades, porque eu cursava medicina mas sempre estava em outros espaços de fala, sempre fui convidada, nos cursos de Psicologia, Fisioterapia, até mesmo no curso de Direito falando sobre Direitos Territórios Indígenas, saúde indígena. Como eles davam voz, nós precisávamos falar. Portanto, nunca estive, dentro da Universidade, ligada apenas ao curso de medicina. Havia oportunidade, lá estávamos nós levando a voz do movimento para dentro da universidade, não apenas eu, como também muitos outros indígenas de vários povos.

O triste episódio vivido pela hoje médica, em seu primeiro dia de aula, ao contrário de desestimulá-la, colocou em ignição um motor de lutas. Uma das consequências em manter postura de resistência foi trabalhar para a criação da Liga Acadêmica do Brasil na UFPA, primeira entidade representativa no Brasil que se volta aos estudantes indígenas, objetivando aproximar professores, profissionais da saúde em geral e pesquisadores, com estudantes e povos indígenas, reconhecendo a importância da saúde indígena, rompendo a distância entre os saberes da academia e o conhecimento e cultura dos povos indígenas.
Narra Sompré como criou a liga.
– “Então, ao longo do curso, bem no início logo de meu período, eu compreendi que a Faculdade de Medicina não falava sobre saúde indígena, saúde dos povos indígenas. E era desconhecido dos demais professores sobre a atenção à saúde aos povos indígenas. Pouco se sabia sobre a nossa secretaria – a Sesai, Secretaria Especial de Saúde Indígena -, como funcionava. Daí eu passei a entender porque os médicos não indígenas nãos sabem lidar com as nossas especificidades, não entendem nada sobre nós, querem tratar nossa saúde de forma geral. E a gente sabe que não é assim que funciona. Então, ali eu passei a ver e a entender muitas coisas. Em razão disso, eu criei na universidade, no Estado do Pará, a Liga Acadêmica Indígena do Brasil (Lasipa) na UFPA, que é uma forma de aproximação, ali na universidade, dos médicos indígenas com os médicos não indígenas na graduação, para que eles possam ter um pouco desse conhecimento do que é ser povos indígenas, de como cuidar, de como tratar, como respeitar as diferenças e entender um pouco desse universo. A Liga é composta por nossa coordenadora do curso de Medicina, Izaura Vallinoto, grande apoiadora. Pra mim, hoje, a liga é um grande legado, ficar à disposição dos atuais e futuros estudantes, porque a briga pela saúde indígena é multidisciplinar, somos compostos por enfermeiros, odontos, psicólogos, médicos, e por aí vai. Resumindo, o indígena estar na universidade é resistência”.
Finalizando, Okitidi Sompré resume todo aprendizado acumulado e o que mais importa às nações indígenas do país.
– “Hoje, formada, eu trago o conhecimento adquirido da medicina Ocidental, mas sem esquecer da nossa medicina tradicional, a medicina dos povos que é conhecimento milenar. Ser indígena médica é diferente porque, hoje, de uma certa forma, eu posso cuidar e entender quando a medicina Ocidental não pode sobrepor a medicina tradicional. E, com respeito, juntos, a junção dos dois, muito se pode fazer pela saúde dos povos indígenas. Precisamos de muito mais indígenas no curso de Medicina, mas não apenas no de Medicina. Eu entendo que os indígenas precisam estar nos mais variados espaços, naqueles com os quais eles se identificam. A nossa luta é pela aquisição de conhecimento”, finalizou.