Cleide (nome fictício) frequenta a escola desde os quatro anos, começou na Educação Infantil. Uma menina linda, de pele negra, cabelos lisos, pretos e brilhantes. Sorri para ela era tão natural quanto respirar. A vi crescer, a cada ano a enxergava mais linda, de menina para adolescente. Saltitando pelos corredores com as colegas, subindo no parquinho, arfando até minha sala quando queria pedir algo, chegava toda manhosa:
– Evilângela, sabe o que é? A gente quer jogar bola no campo e os meninos não deixam, e é o nosso dia, viu?
O jogo de bola no campo sempre foi um problema entre meninos e meninas na escola, quando não chegam a um entendimento sozinhos a bola acaba parando na minha mesa.
Cleide hoje está com treze anos, continua bela, mas agora seu olhar é triste…
Foi adotada por uma tia quando ainda era bebê, a mãe biológica não aceitou a menina negra que gerou, entregou-a para parente, e foi cuidar da vida em outra cidade, casou-se e teve outros filhos.
Até um ano atrás Cleide não procurava contato com a mãe que a gerou, porém alguns questionamentos foram surgindo com a adolescência, crises de identidade mexeram com sua estrutura. Assim, decidiu que queria conhecer a mãe verdadeira.
A mãe adotiva entrou em crise, por ciúmes e por saber do sentimento que a mãe de Cleide nutria por ela. Mesmo com o coração dolorido de ciúmes, intermediou o encontro das duas.
Mãe e filha iriam passar um mês se conhecendo, teriam tempo para se tocar, cruzar semelhanças e diferenças, praticar o ato de dar e receber amor entre mãe e filha.
No entanto, em uma semana Cleide ligou para a mãe adotiva em prantos, queria voltar para a casa…
A mãe que a gerou, em uma conversa franca e agressiva a mandou embora, afirmando que precisava entender que não gostava dela, já tinha outras filhas em seu lugar, em seu mundo não havia espaço para Cleide.
Após as férias Cleide retornou para a escola com um comportamento agressivo, isolava-se, passando a não acompanhar as atividades escolares como antes.
Preciso ser honesta: não percebi essa mudança de Cleide. Mesmo sendo enviada mais vezes à minha sala, não investiguei o que poderia estar acontecendo. Andava tão atarefada! Coisas “sérias” estavam acontecendo, os funcionários precisavam da minha atenção.
Até que em uma bela manhã uma mãe desesperada me encontrou no corredor, agitada, com um monte de coisas para resolver. Me olhou bem firme e disse:
– Evilângela, preciso falar com você em particular.
É sério, pensei. Normalmente as mães vão logo falando o que querem no corredor mesmo. A tomei pela mão até minha sala, a fiz sentar, mas não conseguíamos conversar, a todo momento chegava um assunto urgente para ser resolvido. No entra e sai da sala, percebi que aquela mãe se encolhia na cadeira, as mãos (mãos são sempre expressivas) estavam abandonadas em seu colo, seus olhos choravam sem lágrimas. Parecia tão machucada, que a cada movimento que fazia a ferida que a atormentava era tocada, e doía…
Quando finalmente parei para ouvi-la, entrei em pânico. Não saberia como ajudá-las. A mãe biológica merecia ser processada por ter dilacerado a autoestima da filha, Cleide estava marcada pela dor da rejeição pelo resto da vida, aquela família poderia ser destruída naquilo que é mais importante para o ser humano: saber que é amado (a), querido, importante.
Resolvi, com uma firme convicção pessoal, ajudar Cleide.
Porém, quando a percebi sentada sozinha no banco do pátio, com um olhar distante e triste, entendi que não conseguiria, pois era como se estivesse diante de um espelho: me vi naquela menina.
Não me aproximei de Cleide no primeiro dia após a conversa com a mãe. Não podia tratar de algo que era tão real na minha vida: a rejeição, a dor de ouvir palavras ou gestos que se diziam sinceros, mas que eram carregados de espinhos, que fizeram sangrar o coração.
Cleide me perseguiu por três dias inteiros no pensamento. Lidar com a dor do outro é remexer em nossas próprias dores, as que abafamos gritam, esperneiam, nos agridem, querem se expressar, incomodam, nos fazem perder o sono.
Até que tirei uma tarde para mim. Andei por lojinhas de lembrancinhas alegres, sentei horas em um restaurante sozinha tentando comer, e… comprei uma revista que tinha na capa uma maçã do amor. Isso, precisava entender por que o amor nem sempre dá certo.
Quer seja o amor de mãe ou pai, o amor de um homem ou de uma mulher, o amor de uma amiga ou de um amigo, o amor de um filho ou de uma filha, o amor pelo trabalho, enfim, as diversas formas de amor.
Me sentei em um banco público e fui ler. Li, reli, anotei frases soltas na própria revista, parei várias vezes para dizer: Ah, era por isso que eu agia assim…
Conheci um site super pra cima, ‘Vigilantes da autoestima”, a moderadora do blog, Gisele Rao, escreve uma espécie de diário online sobre a sua busca por autoconhecimento, vigiando sua autoestima 365 dias. Criou níveis de autoestima: palha (baixa), madeira ( média) e tijolaço (alta). Lembra da história dos três porquinhos? Pois é, ela tirou de lá essas categorias.
Descobri que a minha autoestima e a de Cleide estava uma palha. Precisávamos chegar a tijolaço. Entendi que não poderia tentar explicar o comportamento da mãe biológica de Cleide, como nunca poderei entender porque pessoas me trataram de forma tão maldosa.
Não tinha que tratar a mãe da menina, nem quem me magoou. Eu e Cleide é que precisávamos ser tratadas, ser cuidadas…
Naquele fim de tarde me senti encaixando a última peça de um grande quebra-cabeça, daqueles de mil peças miudinhas. Consegui colocar cada coisa no seu lugar: o sofrimento da menina bonita, as pessoas que nos fazem sofrer, as pessoas que nos amam.
Criei um plano para me aproximar de Cleide, com o objetivo de ensiná-la a se namorar, se gostar, se achar linda, perfeita aos seus próprios olhos. Fortalecer a autoestima é o primeiro passo para superar uma rejeição, ainda mais quando vem da própria mãe.
No outro dia aconteceria uma reunião de pais na escola. E lá estava Cleide, de olhar mergulhado na dor. A chamei para me ajudar na organização da reunião. Passamos uma tarde juntas, de muito trabalho e sorrisos, a cada tarefa terminada a cobria de elogios, os meninos se aproximavam para ver o que fazíamos e mexiam com nossa linda menina moça; eu piscava com olhar cumplice e dizia: – Você tá arrasando corações.
Ela sorria meio sem jeito. Os olhos começavam a brilhar…
Após a reunião, Cleide me esqueceu, sumiu no meio dos outros adolescentes da escola. Estava se envolvendo com os colegas de sala. No outro dia chegou perto de mim com o sorriso aberto e me deu o “oi’ mais gostoso que ouvi no mundo. Depois a vi distribuindo abraços para os professores, assim, de graça, somente pelo prazer de abraçar. Pelo prazer de se sentir bem consigo mesma.
Naquele dia, quando me dirigia para casa agradeci.
Agradeci a Deus por ter colocado a Cleide na minha vida, por ser educadora, porque enquanto trato dela me trato também, me namoro, me curto.
Ainda falta chegar à parte mais difícil, falar sobre a mãe biológica, mas quero chegar nessa conversa com uma Cleide mais segura de si, conhecedora de seu valor, capaz de entender que não podemos mudar o que o outro sente por nós. Se não nos querem por perto, fazer o quê? Eles é que estão perdendo a bela oportunidade de conviverem conosco, de nos conhecerem melhor e perceberem o quanto somos maravilhosas!
Meus olhos se abriram para o sofrimento pessoal de cada aluno, os “malcomportados” muitas vezes são os mais mal-amados. E nosso papel enquanto escola é abraçá-los, não substituindo o papel da família, mas cumprindo o nosso papel de intervir para não deixar morrer, intervir para que cresçam seguros e plenos.
Evilângela Lima. Educadora, diretora da Escola Fundamental São José






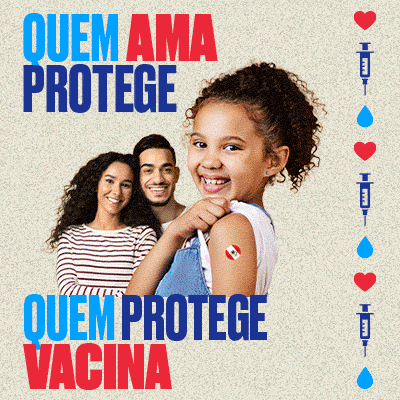
Catiane da Silva abreu
14 de fevereiro de 2012 - 10:20Que lindo Evilangela me emocione.. eu enquanto educadora também ja conheci muitas Cleides e é bom sabemos que fizemos a diferença na vida delas… Parabéns..!!!
Evilangela
10 de fevereiro de 2012 - 20:50Aurea;
Obrigada por frequentemente passar pelo blog e ler os textos.
Sua opinião sempre foi muito importante para mim.
Beijão.
AUREA
9 de fevereiro de 2012 - 22:11Amigaaa!!! Que arrasoo, esse texto…
Adorei… muito emocionante..
Evilângela
7 de fevereiro de 2012 - 15:22Vanessa;
Bom saber que sempre ler o blog do Hiroshi, assim se mantém informada.
Sei o quanto é dedicada à sua profissão, preocupada em fazer o melhor para atender às diversidades em sala de aula.
Não é facil!!! Mas é recompensador….
Beijão amiga educadora!
marilza de oliveira leite
7 de fevereiro de 2012 - 09:35Evilangela, seu texto é emocionante e me deixou extremamente orgulhosa por saber que uma pessoa do seu gabarito faz parte do quadro de professores da rede municipal de ensino. Somente agora li seus artigos, são ótimos! A história que você reproduz faz parte do cotidiano das nossas escolas, da nossa vida de educadores. Durante 32 anos trabalhei na rede pública de ensino, por opção, por entender que poderia fazer ”algo mais”. Seria minha contribuição à sociedade. Ledo engano. Hoje sou consciente que muito mais aprendi do que ensinei. Os milhares de jovens que passaram pela minha vida deixaram suas marcas, suas lições e saudades. Trinta e dois anos depois, minha análise é que esse tempo não foi suficiente para fazer ”algo mais”. As mazelas são tantas, que impera em meu coração o sentimento de impotência. Mas alegra-me profundamente saber que pessoas iguais a você estão inseridas no contexto da ”EDUCAÇÃO”. Parabéns!
Vanessa Santos Pereira.
6 de fevereiro de 2012 - 20:37É realmente uma linda história e fico contente de nessa profissão especial termos o dom maravilhoso da sensibilidade e podermos ajudar naturalmente a essas pessoas que estão á nosso alcançe.Parabéns e continue sempre com esse olhar especial para os nossos alunos.Um grande abraço!
Evilangela
6 de fevereiro de 2012 - 06:06Tia Cleomar;
Minha tia querida do coração, sentimos muita saudade sua, do Rhaone e da Rhayane.
Dá um beijão no meu primo, futuro médico, e na prima, futura engenheira.
Que terminem logo os estudos, se formem e voltem pra junto de nós, sua família, que muito ama todos vcs.
Beijos pra todos!
Cleomar Caldas
5 de fevereiro de 2012 - 22:13Hà muito tempo passei a ser uma “Cleide” por não encarar os desafios da vida de forma madura. Mas é possível mudar, e passar a enxergar em cada dificuldade uma oportunidade de superação e a consciência de que podemos criar uma nova realidade. Parabens Evilangela. Cleomar Caldas
Anônimo
5 de fevereiro de 2012 - 20:35…sabe-se que o mundo pode ser tocado e transformado pela educação.. e disso ninguém duvida, que a escola é um lugar especial e base para uma sociedade melhor..
O que pouco se sabe é que a EDUCAÇÃO transformadora tem a ver com AMOR com respeito ao sentimento do outro, ou seja, com o cuidar do outro… e nada disso se trata de subsitituir a família, mas de dar a escola o sentido de garantir a aqueles que precisam também o cuidado da afetividade…
Puxa Evilangela ! vc não vai entender nada, mas já fomos visinhas, estivemos próximas em uma mesma “quadradeza” pena que a vida nunca permitiu nosso encontro, deixei Marabá a alguns anos… comecei a ler seus textos porque tenho uma grande amiga que cresceu na vila São José e um dia numa de nossas conversas ela me falou da sua dedicação as crianças da sua comunidade, a sua escola e a EDUCAÇÂO… e assim fui indo quando espiava aqui o blog abria seu texto como pra matar a saudade da minha amiga e curiosa pelas transformações da vila…
Obrigada por compartilhar essas histórias de educadora, de vida de gente … de gente “espia” e faz “vigilia” a sua própria ação de educar…
Fico torcendo por “Cleide” e por vc.
Evilangela
5 de fevereiro de 2012 - 19:00Wal;
Nunca, jamais engula o choro.
Choro é pra ser chorado. Às vezes é a única forma de expressarmos um sofrimento.
Obrigada, minha amiga, pela sua participação.
Beijo!!!
Olhar Feminino
5 de fevereiro de 2012 - 18:25Uma triste história, contada num belo texto.
Waldeanne
5 de fevereiro de 2012 - 17:41Esse texto é emocionante, ainda bem que os computadores, não são capazes de captar as emoções, engoli o choro, e pensei quantas Cleides existem no mundo? Parabéns Evilangela pelo seu digníssimo trabalho na vila São José, e na vida daquele povo sofrido.