Foi num dia perdido de setembro de 1996 que a fotografia de Antônio de Pádua Costa, o “Piauí”, guerrilheiro araguaiano desaparecido desde 1974 pelas mãos ou fuzis daqueles que o acompanham na imagem abaixo, todos militares armados até os dentes e, que por vinte anos ficou escondida numa humilde casa camponesa na “Água Fria”, em São Domingos do Araguaia, no Pará.
A história é contada por Paulo Fonteles Filho, no artigo reproduzido em sua integridade:
Passados tantos verões volto minhas memórias para aquelas andanças de meses, aos vinte e poucos anos, por sertões que apenas conhecia pelos livros ou relatos, sempre de um tempo vísceral, seja pelas prisões políticas, seja pela insurgência rebelde contra os mordaceiros da liberdade.
Acontece que em fins de maio daquele ano da década de 90, o jornal “O Globo” publicou uma série de reportagens sobre a Guerrilha do Araguaia e dizia-se à época que um coronel reformado, de identidade ignorada, teria passado aos jornalistas, dentre eles Amaury Ribeiro Jr., arquivos e documentos sobre a invasão militar às terras paraenses em 1972.
O fato é que por dias o Araguaia retornara aos grandes jornais, às manchetes da grande mídia – nos últimos trinta anos aquele evento guerrilheiro das matas nortistas têm sido o acontecimento histórico do país mais investigado e relatado pela imprensa brasileira – e a pressão da sociedade civil fora tanta, sobretudo das organizações de direitos humanos que o governo de então se viu obrigado à promover uma caravana até a região do conflito, coordenado pelo Ministério da Justiça e que contava com forte presença de familiares dos desaparecidos e com a equipe de antropologia forense argentina que, menos de dois anos depois encontrou nas selvas da Bolívia, os despojos mortais de Ernesto “Che” Guevara.
Eu estudava e morava no Rio de Janeiro, era dirigente da União Estadual dos Estudantes e colaborava com a organização das memórias da guerrilheira araguaiana Elza Monnerat, uma das mais destacadas lutadoras que o Brasil conheceu no século 20.
Todos os sábados íamos, eu e Jureuda Guerra, à casa da octagenária comunista, depois das reuniões estudantís na UNE e lá, em seu pequeno apartamento no Flamengo, líamos documentos, verificávamos informações de cada um dos combatentes do Araguaia e ouviamos seus relatos e histórias que versavam sobre os tempos em que inaugurou o alpinismo feminino no país tupiniquim até os dias preparando a jornada libertária araguaiana.
A Elza também relatava os horrores das prisões políticas, fora presa junto com Aldo Arantes, Haroldo Lima e Vladimir Pomar na “Chacina da Lapa” em 1976 e, com mais de sessenta anos, foi barbaramente torturada. Elza, como seus companheiros presos, resistiu à fúria dos verdugos.
Para os desavisados a ação das forças da tirania, na Lapa, ceifou as generosas vidas de Pedro Pomar, Angêlo Arroyo e João Batista Drummond e toda a operação fora coordenada e executada pelos Doi-Codi do I e II Exército, contando com a atuação de conhecidos torturadores, como o Coronel Brilhante Ustra, ainda vivo, e Sérgio Paranhos Fleury, do Dops.
O fato é que acabei designado pelo Partido Comunista do Brasil (PCdoB) para ir me juntar ao grupo que já estava no Sul do Pará. Recebí a tarefa das mãos de João Amazonas depois de quase duas horas de conversa na antiga sede nacional dos comunistas, na rua Major Diogo, em São Paulo. O velho comunista guardou suas orientações para as lembranças camponesas, para as memórias da vida na mata, para os bichos, igarapés e, principalmente, para os que lutaram sempre em condições desiguais para livrar o Brasil do obscurantismo da ditadura militar.
Certas histórias vivem dentro da gente querendo se libertar.
Cheguei à Marabá (Pa) num dia muito quente de junho e tal calor, abrasador, iria acompanhar-nos por todos aqueles dias distantes. Ao descer no aeroporto logo conhecí a Diva Santana, também militante comunista, velha amiga de meu pai e irmã de Dinaelza Santana Coqueiro, até hoje desaparecida pelos coturnos da infâmia. Nunca mais nos perdemos de vista.
Mas aqueles dias eram sempre muito tensos e por onde andavámos sempre erámos seguidos por um carro preto, fumê, com um detalhe indefectível: um enorme adesivo, prateado, escrito “Jesus Salva”. Não sei, até hoje, se aqueles intimidadores nos achavam burros ou cegos. Prefiro acreditar que nos achavam burros mesmo, porque nos subestimando, desconhecendo nossas disposições, avançavamos.
O clima era tão pesado, de restrições, que num dia, em meio à expedição, o helicóptero da Polícia Federal foi proíbido de alçar voo para realizar um reconhecimento, ordens estranhas vindas de Brasília.
Uma questão vinha sempre à minha cabeça naqueles dias: o que fazer no meio desta parafernália de egos e de governo?
A verdade é que estavámos escanteados pelos “donos” da coisa toda e, como cartas que estão fora do baralho, como quem vai de garfo para tomar sopa – lembrando Simonal – tivemos que nos juntar ao altruísmo dos poucos camponeses que procuraram o esforço governamental. Eles, os camponeses, também estavam como nós, sem pai nem mãe.
Apenas um detalhe nos diferenciava: os camponeses sabiam de histórias que ainda não haviam sido coletadas e mantinham relações com muitos dos protagonistas não-militares, como antigos mateiros, testemunhas oculares dos duros episódios da repressão ao movimento insurgente no Araguaia.
Fora nestas condições que conhecí Sinvaldo Gomes, no saguão de um dos melhores hotéis de Marabá. Sinvaldo chegou à entrar para o movimento insurgente e era genro de Antônio Alfredo de Lima, castanheiro que ingressou nas Forças Guerrilheiras do Araguaia, desaparecido desde outubro de 1973. O Comandante do Destacamento “A”, André Grabois, o “Zé Carlos”, dizia que “se nós tivermos dez ‘Alfredos’, ganhamos à guerra!”.
Daquele dia em diante segui com aquele camponês por meses à fio. O que seria uma viagem de, no máximo dez dias, se transformaram em meses palmilhando sertões. Creio que os nossos melhores dias são sempre aqueles que estamos, mas aquelas manhãs, tardes e noites perdidas de 1996 me fizeram ver e sentir coisas que não podem estar nos livros, mas na vida como ela é, sem floreios ou afetação.
Uma coisa é apenas o conhecimento livresco, outra coisa é o conhecimento empírico. Ambas são importantes, mas decisivo mesmo é o que nos ensina a tradição marxista, que nos faz unir teoria e prática, gerando no ventre do pensamento social avançado a “práxis”.
Com uma fome de informações que desconheciam fronteiras segui com meu amigo para longe do aparato e dos que nos vigiavam, depois eles nos encontraram, é verdade.
O próprio Coronel Sebastião Curió esteve na casa de um ex-mateiro, o “nego” Olímpio, para oferecer-lhe terras como condição para que não nos informasse nada. Quando o Curió chegou lá, o velho rastejador já havia nos levado, dois dias antes, nas “Oito Barracas” e nas imediações da sepultura de Helenira Rezende, a “Fátima”. Se é verdade que eles, os violentos, tinham informantes, nós também tínhamos os nossos, as gentes simples e amigas daqueles rincões.
Logo a expedição retornou à Brasília e ficamos por alí. Outros camponeses se juntaram à nós, como o José Moraes, o “Zé da Onça”, e acantonados na casa da família dos Moraes, do Frederico e da Adalgisa, numa região conhecida como “Brasil-Espanha” saíamos para nossas missões de reconhecimento. A casa simples de taipa era margeada pelo Igarapé “Fortaleza” e alí escutava as histórias da Jana Moroni Barroso, a “Cristina”, a flor da mata festejada pelos olhos de saudades da Adalgisa.
Nunca aqueles irmãos da igualdade – característica da conduta dos lavradores – me deixaram sozinho, em desamparo. Verdadeiramente aqueles dias me ensinaram o sentido profundo da generosidade humana, sempre comum entre os mais modestos. Carrego comigo a premissa de que essa generosidade é a espada fraternal que empunha nossos camponeses para enfrentar o duro trabalho da roça e os centauros do dinheiro, sempre personificados pelo latifúndio e suas hordas de pistoleiros.
Pelas noites, sempre iluminadas por candeeiros, lia poemas de Neruda e o relatório confeccionado por Angêlo Arroyo sobre os eventos da guerrilha. Entre Lautaros e os poemas de amor passava à vista por aqueles atentos olhinhos dos sertões, nunca tive tanto prazer em ler poemas em minha vida, ler exatamente para quem carrega os embandeirados versos da liberdade, por suas mãos e veias.
Me perdoem se me estendo, mas sinto que isso não se possa dizer de outra forma, fria e sem os batuques qua sambam o peito.
Toda esse convívio foi amalgamando o dia em que encontramos à fotografia do “Piauí”.
Os meus companheiros, responsáveis pelo deslocamento arrumaram os cavalos e partimos pelo dia e pelo sol, entre as matas e os sertões até a casa do “Peixinho”, na “Água Fria”. Eu já não me aguentava mais, estava todo assado por um desarranjo intestinal que me forçava parar a marcha, retardar os ímpetos, porque era realmente terrível prosseguir e só cheguei até lá pelo amparo dos que estavam comigo, espécie de cavalariços saídos do livro de Cervantes.
Na casa do “Peixinho”, sua esposa Maria fez um preparado de mato e pasta de dente retardando o mal-estar como num passe de mágica. Almoçamos uma capivara e fomos andarilhar pelo bananal onde a Lúcia Maria de Souza, a “Sônia”, tombou morta em outubro de 1973.
Antes de apagar os olhos, a guerrilheira sacou um revólver escondido na bota e atingiu os capitães Curió e Lício Maciel, o primeiro levou bala nos braços e o segundo teve o rosto atingido pela fúria insurgente. A combatente caiu depois de gritar que “era guerrilheira e que lutava por liberdade”.
Depois de algumas horas andando pela “Água Fria”, e sem uma localização exata do local onde acreditavámos que a “Sônia” pudesse estar inumada, fomos nos despedindo do casal de lavradores. Entre as muitas despedidas, Maria, a dona da casa chamou-nos até a beira da construção rústica e tirou das paredes de palha um velho monóculo esverdeado. Como monóculos são coisas de um tempo anterior, não soube à princípio manuseá-lo e foi o Sinvaldo quem disse “é o ‘Piauí’!”, caí para trás e refeito o susto ví que além de Antônio de Pádua Costa estavam vários militares, todos de fuzís nas mãos.
O “Piauí” é o primeiro agachado da esquerda para a direita. Ao seu lado pode ser um tal mateiro chamado Antônio “Babão”, segundo disse à época Sinvaldo Gomes. Mas é possível que se trate de outro insurgente desaparecido, não sabemos até hoje a identidade daquele que parece estar aprisionado ao lado do guerrilheiro araguaiano.
“Mas como isso veio parar aqui?”, perguntei-lhes. De pronto recebí a informação de que no ano de 1976 os militares teriam andado pela “Água Fria”, retirando da terra os restos mortais da “Sônia”, na primeira operação de limpeza que se têm notícia. Tais operações que duraram até 2004 procuravam retirar os desaparecidos políticos de seus iniciais locais de sepultamento para um lugar até hoje não-sabido. Ignorado por nós e não por eles, famigerados agentes da repressão política.
Segundo nossos amigos um tal Sargento Salsa deixou cair o monóculo e aqueles camponeses guardaram a imagem por vinte anos, sempre escondida pelo silêncio das paredes da palha do babaçú.
Aquela imagem de derradeira vida fora a primeira fotografia que revelou que guerrilheiros foram mortos depois de terem sido aprisionados pelos verdugos da tortura. Até então, os militares afirmavam em relatórios que todos os guerrilheiros teriam desaparecido em combate e que ninguém, absolutamente ninguém, teria estado sob a custódia do Exército.







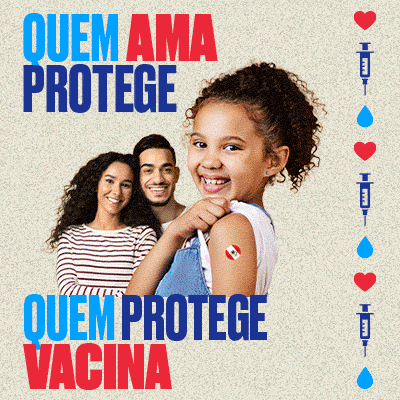
Anonimo
25 de outubro de 2012 - 16:17Esta historia não esta ultrapassada e deve ser divulgada para que a atual e proximas gerações tomem conhecimento de como a barbarie patrocinada pelos burgueses em defesa de construções de grandes latinfundios trucidou barbaramente nossos irmãos.
ANONIMO
22 de outubro de 2012 - 15:02Essa história está passada,repassada,tripassada, mas tem gente que sem esses fatos, desaparece do cenário contemporâneo,e alguns querem vender livros, o Brasil tem milhares de assuntos atuais que precisam de discussão e solução, a guerrilha é só história agora. Isso é ridículo !