Neste sábado, abro meus emails e deparo com uma mensagem enviada por amigo contemporâneo dos anos 70.
Leonizar Cunha havia mais de 30 anos não sabia onde me encontrar. Nem eu a ele.
Emails daqueles de deixar o dia abertamente límpido.
Fomos amigos dividindo quartos e moradas de variados naipes, no Rio de Janeiro. Por exatos dezoito meses moramos juntos, sofremos, passamos fome também, aprendemos e, o melhor de tudo, nos divertimos adoidadamente.
Leonizar reatou contato através do Google, esta ferramenta maravilhosa da Internet que não deixa mais ninguém na mão. Pode até demorar a pesquisa, mas ninguém mais se esconde, depois de sua aparição. Explica Leo, a forma como acessou meu email, localizado no perfil do blog.
– Estava esta noite (sexta-feira, ontem) lembrando das loucuras que fizemos no Rio e deu saudade. Quis saber onde te encontrar, porque eu continuo por aqui, ora no Rio, ora na Região dos Lagos, Belo Horizonte, essas estradas que tanto nos atraem. De repente, escrevo Hiroshi Bogéa no Google e eis que uma sequencia de registros mostra como te encontrar. Daí em diante foi fácil. E aqui estou.
Fátima, irmã de meu amigo, foi Miss Imperatriz. E, se não me engano, ficou entre as três finalistas do concurso estadual.
Com ela, andei tendo um, digamos assim, chamego de verão. Mas nem bem começou, já estava no fim da linha.
Guardo de Leonizar agradáveis recordações. Dele, principalmente, a lembrança de um sujeito calmo, tranquilão mesmo, daqueles de falar baixinho e usar a paciência como arma fulminante para derrotar as piores adversidades.
Morávamos, primeiramente, em Santa Teresa. Depois descemos, contrariados, o morro pra ficar entre carros e zumbidos, na Rua Paissandu, mais precisamente num quarto dividido de um apartamento no 12º andar de propriedade de um casal de idosos. O aluguel do quarto ajudava na renda mensal dos aposentados, “dona” Guilhermina e “seu” Cassiano.
Imagine, três machos num quarto de 16 m2: eu, Leonizar e Roberto, um baiano de Itabuna que ficava azarolhado quando o chamavam de “vida mansa”, em alusão ao imaginário popular de que o povo da Bahia é tocado pela preguiça.
– Isso é um mito. É discurso de colonizador!
Preparando-se para vestibular de Antropologia, na Católica, Roberto adorava falar sobre o tema, dando aulas de como surgira a “concepção da preguiça”. Repetia a tese para quem o provocava.
De tanto repetir, eu e Leo aprendemos rapidamente que a tal preguiça baiana fora um perfil construído historicamente. Desde o século XVI, a elite local depreciava os negros escravos, descritos como desorganizados e sujos, depois como analfabetos e sem conhecimento, e, finalmente, como preguiçosos.
Hoje, em seu email, Leonizar lembra de Roberto, e da viagem que fizemos a Salvador num daqueles finais de semana prolongado, dentro de um fusquinha cinza que jogava mais fumaça do que percorria a Rio-Bahia, naquele tempo perfeitamente pavimentada.
Foram cinco dias de agradáveis sensações, e absorção de muito conhecimento.
Roberto é mais velho do que nós oito anos. Já havia cursado Direito, trancando a matrícula quando faltavam dois anos para a conclusão do curso.
Em Salvador, não podia faltar, longos e proveitosas homilias de Roberto, se esforçando ao máximo para provar que baiano não é preguiçoso.
Sem dizer nada, num inicio de noite, nos levou até a famosa Ladeira da Preguiça, cantada em verso e prosa, inclusive por Gilberto Gil.
Empolgado, ele subia e descia a bichinha como se fosse um guia turístico, dissertando sobre a origem do nome da ladeira.
Então, para quem não sabe, a Ladeira da Preguiça, em Salvador, ganhou este nome por ter sido a via de acesso de mercadorias vindas do porto para a cidade, levadas em carretões puxados a boi e empurrados por escravos. Do alto de seus casarões, ao verem os escravos tomando fôlego para subir com sacos de 60 quilos nas costas, as elites gritavam: “sobe, preguiça! sobe, preguiça!”.
Adorável Roberto, adorava tirar partido com minha cara. “O do Norte”, como ele me chamava.
Na rua Paissandu, naquele belíssimo calçamento de cerâmica, sobre as calçadas (nem sei se ainda restou alguma coisa dele, atualmente), costumávamos percorrê-lo saboreando cigarros, num ir e vir que se arrastava pelas madrugadas.
Nessas andanças, tirando sarro comigo, Roberto sapecava:
– “Do Norte”, essa cerâmica foi trazida de Portugal exclusivamente para fazer o caminho da Princesa Isabel mais macio…
Dizia e tragava, olhando para os pés andando sobre a calçada, enquanto seguíamos absortos em suas estórias.
Um dos passeios prediletos de Roberto era pegar o trem na Central.
Sem rumo, adorava percorrê-lo aos sábados, nos levando com ele, na marra.
– Vocês precisam respirar o sofrimento do povo brasileiro….
Quem já andou de trem saindo da Central do Brasil sabe a brabeza que é o barato.
Cada um se vira como pode. Loucura.
Antes da locomotiva parar, já tem gente dentro.
Gente de todo tipo: negro, branco, cafuzo, operário, comerciário, ladrão, jovens, idosos, a salada social mais completa do país. Todos loucos para chegar em casa, ou ao trabalho, dependendo da hora em que nele se apeia.
Na pressa, ninguém pode mosquear. Mosqueou, dançou, fica em pé.
Por isso, a guerra braba, tão braba quanto encarar a britadeira com o sol na moleira o dia todo. E vale tudo, até xingar a mãe, manifestação corriqueira dos que disputam um lugar sentado para poder dar uma morgada de leve até chegar ao destino, invariavelmente de Deodoro pra cima.
(Uso o verbo no presente porque deve ser do mesmo jeito de 30 anos atrás. Ou pior.)
Ríamos demais de toda aquela loucura.
Ao mesmo tempo, o cenário emprenhava em nossas visões de jovens do interior do Brasil uma nova consciência do mundo-cão, vivo e real, a inicializar inquietações que nos acompanhariam por muitos anos.
Numa dessas “viagens introspectivas” de Roberto – como assim ele batizou a transação de sábado no interior dos trens da Central -, aparece, certo dia, numa das locomotivas, uma linda mulata.
O povão ali, em pé, cheirando nucas e sovacos uns dos outros, levando mão, tirando sarro do dia e muito cuidado com as carteiras, documentos. A lei do trem é outra e quem não estiver muito atento fica sem o trocado.
A linda mulata no meio do bolo de vez em quando lançava olhares chegados ao charme pro Roberto, cara boa pinta.
Leonizar, esperto, adiantou-se um pouco, no meio do vuca-vuca, para conferir, e vê o maior mulato do lado da mulher, dando uma de guarda-costa da rainha, aquela pose de “olhaí, manera, a mulher é minha e muito minha”. Era grande, forte, cara de mau, justamente para piorar as coisas.
Discretamente, Leo retorna, aos trancos e barrancos, e dá a dica, falando próximo ao ouvido de Beto:
– O negão ali parece que controla o pedaço. Melhor ignorar, aqui a barra é pesada.
– Que se dane o macho dela. Tá se jogando, vamos ver como é que fica.
A mulata ali, olhando pro Roberto de rabo de olho, rindo sozinha e escondido.
Roberto conseguiu chegar perto da rainha, começando um lance de esfrega-esfrega que levava preocupação a nós, meio distantes da transação. O sacolejo do trem ajudava a muvuca dos dois, estimulando-os a uma apalpação discreta. De repente, a mulata leva a mão ate a região genital de nosso agradável amigo, ficando por ali bom tempo.
Ele, estático, olhar de paisagem.
O parceiro da distinta ali, grande, meio de lado, meio de frente, conferindo, cuidando. Mas querer que alguém não encostasse em sua mulher, com o trem cheio daquele jeito, era pedir demais.
O trem seguia, o mulatão segurando-se, no balanço, meio acordado, meio dormindo, em pé que nem cavalo. Ninguém é de ferro. Mas a mulher se entregou.
Lá pela altura de Engenho de Dentro, ela encostou a cabeça no peito de Roberto como se fazendo dormindo. Num dos solavancos, o negão acordou e viu a cena: nosso amigo com as mãos no seio da rainha, e ela ali, encostadona em Beto.
– Que isso, ô meu, com minha mulher não. Enfio-lhe a mão na cara.
O trem estava cheio, mas nem por isso deixou de abrir uma pequena clareira naquela multidão, o que gerou reclamações mis.
– Pô, quer brigar, salta em Madureira e briga lá, ora.
– Joga pela janela, joga pela janela.
– Tem nada disso – berrou o mulatão – vou sambar esse cara aqui mesmo.
– Qualé, ô cara. Tô na minha, cochilei e houve um descuido da minha mão….
– Descuido o caralho!
Nisso, eu e Leo estamos nos afastando da muvuca, pensando no pior. Um tiro, uma briga generalizada.
Saindo à francesa, o Beto que se cuidasse da bobeira.
Bate, não bate, nessa altura, o baiano parceiro tentando uma fuga estratégica, e nós torcendo pro trem chegar em Engenho de Dentro; e o mulatão já dando decisão em todo mundo, querendo encaçapar alguém.
Mas prevaleceu o bom senso geral e a briga acabou não acontecendo. Melhor dizendo: Roberto escapou de ser dizimado. E nós, no meio, idem.
Acalmado o barraco, os três próximos um do outro, ainda ofegantes, chegamos a ver quando o casal saiu pela porta do trem mais próxima, aberta na plataforma de Engenho de Dentro. Metade dos passageiros naquele vagão também desembarcou.
Sentamos os três, num banco vago em nossa frente.
De olhos fechados, permanecemos algum tempo, respirando fundo em busca de relaxamento.
Quando o trem deixou Engenho e parou em São Cristovão, eis que nosso querido baiano se vira, batendo a mão nos bolsos da calça:
– Meu deus! Minha carteira! Meus documentos! Meu dinheiro….
Roberto entrara numa roubada, literalmente.
A linda mulata serviu como atrativo para ele se aproximar do mulatão e ser tungado.
Tunga carioca perfeita.
Durante bons dias, nos divertíamos demais curtindo o mico do Beto.
Nunca mais ele quis saber de nos convidar a novas “viagens introspectivas”.
Leonizar lembra desse lance, no email enviado hoje a mim.
Saudades dos dois.






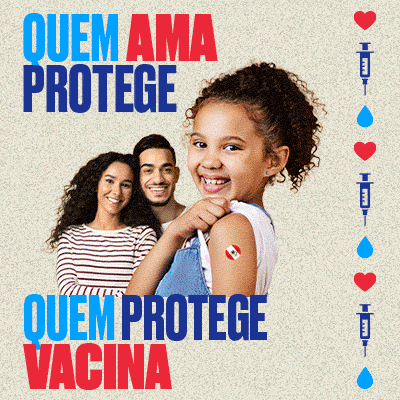
Info
16 de abril de 2012 - 16:34Essa história de preguiça baiana surgiu no antigo programa da Regina Casé. O proconceito é patrocinado pela Rege Globo, principalmente antes do Carnaval. A Globo faz tudo para boicotar e diminuir o Carnaval baiano.
Hiroshi Bogéa
17 de março de 2010 - 00:50Rui, fico feliz saber que o port reacendeu boas lembranças de sua maravilhosa terra. Volta sempre aqui, abs.
Rui Baiano Santana
16 de março de 2010 - 19:46Caro Hiroshi,
Nessa tarde triste e chuvosa aqui em Ananindeua, meu olhar marejou quando li esse seu post com relato do seu amigo sobre o Roberto o seu outro amigo que é baiano, falou da ladeira da preguiça, quantos vezes eu subir aquela ladeira.Como cantou o nosso grande Caimmy " Adalgisa mandou dizer que a Bahia está viva ainda lá, meu candoblé ainda está lá", eh saudade! que deu agora da minha Bahia, um dia eu volto.
abraços
Desse baiano exilado.
Hiroshi Bogéa
14 de março de 2010 - 20:23Ruas, obrigado, parceiro. Como sempre, você valorizando a caixa de comentários. Abs
Hiroshi Bogéa
14 de março de 2010 - 20:2211:00, sim, é verdade.
Anonymous
14 de março de 2010 - 14:00Hiroshi.
É verdade que o secreatario de saude de maraba pediu demissão.
roberto ruas
14 de março de 2010 - 01:35Caro Hiroshi,fascinante sua história de vida,muito bem desenvolvida com a linguagem de quem entende do riscado,traço um paralelo da minha tambem,temos coisas em comum,exceto apenas o cigarro,mas a fome,falta de grana,bem parecida,ainda que aqui me redimo,que a sua trajetória é mais rica em detalhes,afinal Rio de Janeiro,comparada com Altamira nos idos da decada de 70,é uma brutal diferença.Valew nobre amigo,riqueza pura de vida.Abraços