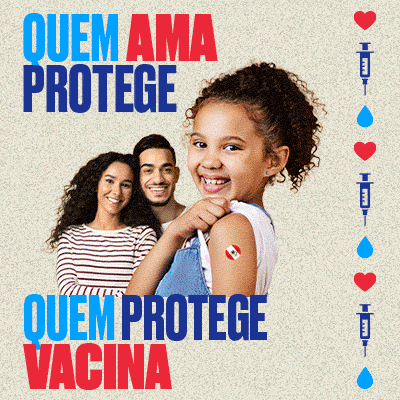Se existisse uma unidade de medida para a felicidade na Marabá dos anos 70, ela certamente seria calculada em quilos de maisena por metro quadrado. Naquela época, a cidade era uma “menina” de 25 mil habitantes, e o Carnaval não era apenas uma festa; era uma maratona de fôlego, suor e uma névoa branca que transformava todo mundo em fantasma festivo antes mesmo do primeiro gole de cerveja.
Sair em um bloco na Velha Marabá exigia o preparo físico de um triatleta e a paciência de um santo. Os blocos, com média de 30 almas animadas, brotavam do nada entoando o hino sagrado: “Mamãe eu quero mamar!”. E ai de quem ficasse na calçada só olhando! O destino era implacável: ou você entrava na dança, ou recebia um “batismo” de maisena que te deixava parecendo um peixe pronto para fritar.
As ruas eram poucas, mas pareciam infinitas sob o sol do Pará. O charme era a parada estratégica. O bloco não andava, ele “peregrinava” pelas casas dos baluartes da folia. Quando o saxofone de uma das retretas anunciava a chegada na casa de um Vavá Mutran, de um Hiran Bichara ou do Miguel Pernambuco, o mundo parava. Ali, a hospitalidade marabaense se traduzia em rios de cerveja e comida que brotava do chão.
Maneco, Miguel Pernambuco e tantos outros abriam as portas como se o bloco fosse parte da família — e, no fundo, naquela Marabá de antigamente, todo mundo era um pouco parente na hora de pular o “Zé Pereira”.
Mas o verdadeiro “pulo do gato” (ou do fofão) era o anonimato. As fantasias de fofão, com aqueles capuzes generosos, eram o Tinder da década de 70 — só que com muito mais suspense.
Dançar com um fofão era um exercício de imaginação. Quem estaria ali por baixo? O beijo, quando acontecia, era uma operação tática por baixo da máscara, um roçar de lábios com gosto de látex e suor. O “charme” era justamente esse: a curiosidade de quem estava fora do bloco, tentando adivinhar pelas canelas ou pelo jeito de sambar se aquele mascarado era o filho do vizinho ou a paixão secreta do colégio. Muitos casamentos em Marabá começaram assim: um segredo revelado na quarta-feira de cinzas, depois que a maisena baixava.
E, claro, havia o lado rebelde da turma.
No canto da esquina, longe dos olhos dos mais conservadores (mas muitas vezes perto dos próprios donos das farmácias que estavam no bloco), os mais afoitos faziam a famosa “corrida do lança”.
Antes da proibição, o lança-perfume era o rei. Depois, o jeitinho marabaense entrou em cena com o Kelene, anestésico geral. Era um espetáculo à parte: o sujeito saía do bloco um cidadão respeitável e voltava dois minutos depois com o olhar de quem tinha acabado de descobrir o sentido da vida, cortesia do anestésico hospitalar vendido sob o balcão do “comerciante amigo”. O farmacêutico, aliás, muitas vezes estava no meio da roda, pulando com uma alegria que só quem conhece o estoque da própria loja consegue ter.
Sem os instrumentos de sopro, Marabá não pulsava. O som metálico dos saxofones e clarinetes, misturado à batida seca dos surdos e caixas, era o coração da cidade. Era uma música que convidava, que puxava o morador pela mão e o jogava no meio da poeira branca.
Hoje, a Marabá de 25 mil pessoas cresceu e se espalhou, mas quem viveu aquela Velha Marabá dos anos 70 ainda sente o cheiro da maisena no ar quando fevereiro se aproxima. Afinal, não era apenas Carnaval; era o tempo em que a gente podia ser qualquer pessoa sob um capuz de fofão, desde que a bandinha não parasse de tocar.
Os maestros do caos branco (*)

Se a Velha Marabá dos anos 70 fosse um corpo, o Carnaval seria o sangue e Hiran Bichara, dono do cinema local; Maneco, dono de um bar tradicional; e Miguel Pernambuco, fazendeiro rico da cidade -, seriam o coração — ou, no mínimo, o pulmão que incentivava o sopro do metal de um saxofone incansável.
Naquela cidade de 25 mil almas, onde todo mundo se conhecia pelo apelido ou pelo pecado, os três carnavalescos, citando alguns nomes resumidamente – não eram apenas foliões: eles eram instituição climática. Onde chegavam, a temperatura subia e a pressão atmosférica era medida em nuvens de maisena.
HIran Bichara tinha o dom da onipresença carnavalesca. Você o via na frente do bloco, cantando a preferida “sei que é covardia o homem chorar por quem não lhe quer…” às vezes até imitando estar regendo uma retreta de sopros que parecia ter saído de um sonho febril de meados do século. Saxofones, clarinetes e aquele surdo que batia no peito da gente como se desse ordens para o pé não parar. Quando Bichara apontava para os músicos iniciarem o resfolego, na verdade ele estava convocando para o suor.
A casa de Miguel Pernambuco, sempre farta de tudo, era uma das “estações da cruz” da alegria marabaense. O bloco vinha descendo a rua 7 de junho com a Getúlio Vargas, uma massa de fofões e gente enfarinhada, e parava ali. O ritual era sagrado. Miguel escancarava as portas da casa e oferecia a todos cerveja a vontade e pedaços de carne que pareciam brotar de panelas infinitas.

Diziam que, na casa de Miguel, a hospitalidade era tamanha que até quem entrava de fofão, com o capuz escondendo o rosto e a dignidade, saía de lá sentindo-se o dono da cidade. Ele tinha o olhar de quem sabia exatamente quem estava por baixo da máscara, mas mantinha o segredo com a cumplicidade de um mestre de cerimônias. “Bebe aí, fofão!”, gritava ele, enquanto a bandinha já ensaiava as primeiras notas de “Se a canoa não virar”.
Outra liderança era o Maneco , que impressionava a todos com a resistência física – embora fosse uma figura magérrima, bem magro mesmo, . Ele nunca parava de festejar a quadra carnavalesca, dia e noite, começando o balacobaco no bar que ele tinha numa esquina da cidade.
Enquanto os jovens de 18 anos já estavam com o fôlego curto de tanto pular e cheirar lança-perfume, Maneco parecia alimentado a querosene e alegria. Ele era o guia daquela maratona.
Ver Maneco no Carnaval era entender que Marabá não era só um ponto no mapa geológico do Pará; era um estado de espírito. Ele não precisava de sistemas de som modernos ou trios elétricos barulhentos. Ele tinha o samba no pé, os amigos e aquela certeza de que, enquanto houvesse um instrumento de sopro e um pote de maisena, a tristeza não teria CPF na Velha Marabá.
Quando a quarta-feira de cinzas chegava, e o silêncio finalmente vencia o cansaço, quem passava pela rua do Bar do Maneco ainda parecia ouvir, num eco distante, o som do saxofone desafiando o tempo.
Maneco não apenas viveu o Carnaval; ele foi a trilha sonora de uma Marabá que hoje mora na saudade e no fundo de algum pote de maisena esquecido.
—————————-
(*) – Nota do editor: Mencionei apenas estes três nomes por limitação de espaço e para preservar a concisão, embora a lista seja mais extensa